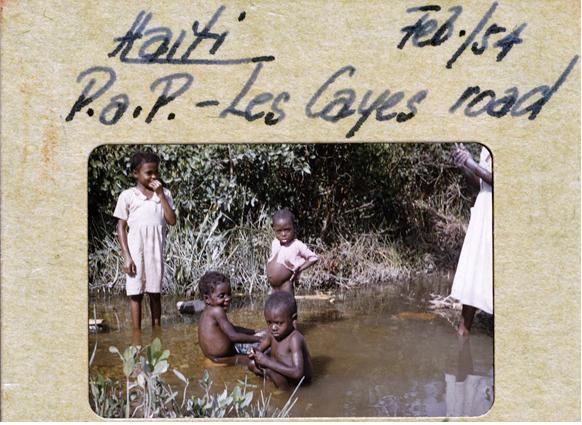Os dois acordam ao som dos passarinhos. Para chegar aonde vivem pai e filho, é preciso subir a Serra da Cantareira, contornar as curvas da Estrada da Roseira e vencer um emaranhado de ladeiras. A casa de Chico Teixeira tem uma varanda ampla, com vista para um quintal gramado e um lago. Na porta da cozinha, o pai e vizinho, Renato, acende um cigarrinho de palha. O clima de roça entra e instala-se no sofá. Ao violão, cantarolam Pai e Filho, versão do hit de Cat Stevens que está no disco recém-lançado de Chico Teixeira, Mais Que o Viajante. Renato inicia suavemente a letra que aconselha o filho a ficar em casa. A resposta de Chico vem em voz grave. A música é um diálogo sobre o filho indo embora. “Isso toca as pessoas porque são valores folk, são coisas do povo”, diz Renato, que é pai de quatro filhos e avô de seis netos.
Ele nasceu em Santos e passou a infância em Taubaté. Tornou-se compositor e frequentou festivais da Record cantado por Gal Costa, Roberto Carlos e Elis Regina. Identificou-se com a música caipira. Também compôs – e ainda compõe – jingles inesquecíveis. Gosta de lembrar a estética inovadora criada com o parceiro Sérgio Mineiro no Grupo Água. O arranjo para a música Romaria, por exemplo, surpreendeu Elis Regina, que decidiu-gravá-la com as mesmas nuances. “O conceito era pegar o que o povo diz e transformar em música.”
Chico, 31 anos, enxerga o pai, de 66, como inspiração cotidiana. Conviveu desde menino com seus muitos parceiros, entre eles Zé Geraldo, Pena Branca, Zé Gomes. Em seu segundo disco, Chico gravou composições próprias e desenterrou a saborosa Saudade Danada, de Elpídio dos Santos, compositor das trilhas dos filmes de Mazzaropi. O álbum conta ainda com Dominguinhos, Gabriel Sater e o próprio filho de 5 anos, Antonio. Nesta entrevista, pai e filho falam sobre música, inspirações, jingles, pirataria e os novos projetos.
Quando o Chico começou a tocar, ele foi na fazenda do Almir Sater. Foi passar 15 dias e ficou dois meses. Quando acabou o colégio, disse: “Pai, meu negócio é música, não vou pra faculdade”. E eu: “Tá bom”. Faculdade de Música, jamais!
Vocês estão juntos em diferentes turnês. Shows do DVD Amizade Sincera, apresentação solo do Renato e o disco do Chico. Como conciliar tantos trabalhos e conquistar o público?
Renato Teixeira – Nosso público não está necessariamente na capital. Está no interior. A atividade cultural de São Paulo é fortíssima, mas é muito concentrada em determinados tipos de público.
Chico Teixeira –Tem vários guetos musicais em São Paulo. O rock underground, por exemplo, tem uma cena forte, que funciona. Mas é diferente quando falamos da música que vem do interior e emociona…
Renato – Até 1970, a música brasileira era bem dividida. Bossa nova, samba, nordestina, boleros. E a música caipira estava encerrando um ciclo genial. Nesse momento, o Sérgio Reis, a dupla Léo Canhoto e Robertinho e eu começamos a mexer com essa música. Minha influência do caipira vem de Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Guimarães Rosa. E Léo Canhoto e Robertinho mostraram que a dupla não precisava ser só aquele modelo tradicional, que podia ser o que vemos e ouvimos hoje com Chitãozinho e Xororó. Aí o terreno ficou fértil. Foi quando passou a vir o lastro para esse nosso lado: Inezita (Barroso), Rolando Boldrin, Pena Branca e Xavantinho…
Isso depois de Elis gravar Romaria, em 1977?
Renato – Foi. Isso é uma conquista, não é da noite para o dia, demora anos. Eu já tinha Romaria; Tocando em Frente; Amanheceu, Peguei a Viola; Frete – enfim, todos os meus sucessos. Mas quando ia tocar só havia dez pessoas na plateia.
Em 1992, aquele disco histórico com Pena Branca e Xavantinho ao vivo, em Tatuí, fez muito sucesso.
Renato – E foi tudo na raça, na intuição, sem apoio.
Chico – Meu pai cantando Rapaz Caipira naquele disco é a resposta para aquele momento.
Você estava lá, Chico? Nos bastidores?
Chico – Eu tinha uns 11 anos. Acompanhava a movimentação toda com Pena Branca e Xavantinho em casa. Nesse show eu não estava, mas vi os ensaios. A gente morava na casa da Elis Regina e lembro uma época em que eles iam quase todo dia lá. Acompanhei desse jeito. Depois fui tocar com o Pena Branca, já com 20 e poucos anos. Em seguida, com meu pai. Em 2003 entrei pra tocar no show inteiro. Éramos eu e ele. Nos primeiros discos do meu pai, na fase mais folk, sempre havia grandes violeiros: Natan Marques, Carlão de Souza. Pensei: “Pô, vou seguir esses caras”.
Renato – Ele começou viajando junto, passou a ajudar numa coisinha aqui, outra ali, depois tirou carteira e ajudava a guiar. Às vezes eu o convidava para entrar e cantar uma música. Quando precisou, estava pronto. Conhecia todo o processo. O violão de 12 (cordas) é um instrumento fundamental pra esse tipo de som. Conheceu o Carlão. Depois, o Natan.
Chico – Também convivi com o Zé Gomes, um cara superconceitual, tocava rabeca.
Renato – Pois é, estamos falando de músicos que estão entre os melhores do mundo. Quando o Chico começou a tocar, quando começou a sair som, ele foi na fazenda do Almir Sater. O violeiro precisa de uma base pra poder solar, e ele ficou acompanhando o Almir.
Chico – Fui passar 15 dias lá e fiquei dois meses. Foi mágico vivenciar aquilo, o som da viola caipira.
Peguei a música de Tonico e Tinoco, Vieira e Vieirinha, Tião Carreiro e Pardinho, Cascatinha e Inhana, os cults. Esses caras entravam no estúdio, ligavam um microfone pra cada um e gravavam um LP em duas horas
Então você sabia que trabalharia com música?
Chico – Saber, não sabia, mas nunca passou pela minha cabeça fazer outra coisa.
Renato – Nem na minha. Desde que nasci a minha casa sempre foi assim, cheia de violão (mostra os violões de Chico expostos na sala). E o Chico reproduziu isso. Eu falava que queria ser arquiteto, mas por quê? Porque música é arquitetura. Eu ia muito lá na FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo), assistia a aulas.
Chico – Ele até fez uma casa em Ubatuba (risos).
Renato – Eu nunca cheguei no Chico e disse: “Você vai ser músico”. Ele vai ser o que quiser!
Chico – Tem o lance do DNA, tem até um estudo, um livro que fala sobre a cabeça do músico… Meu pai ficou fazendo música em casa, no começo dos anos 1980, que era (a época) da baixa, a Elis tinha acabado de morrer também. Foi um tempo meio frio em que ele foi fazer publicidade, nos anos 1970, comecinho dos 1980.
Renato – Eu comecei a fazer publicidade para “calibrar”.
Chico – Ele trabalhava muito em casa, fazia trocentos jingles numa levada. E eu sempre perto. Tem fotos dele compondo e eu lá, puxando o cadarço dele. E ele casou com a minha mãe, que era apresentadora de telejornal e pianista clássica desde a infância.
Renato – Uma coisa superengraçada tanto na música dele como na dos meus filhos (todos). Quando eles estavam brincando, a Sandra tocava a tarde toda. Pianista clássico estuda muito.
Chico – Enlouquecedor (risos).
Renato – Eles jogavam bola ouvindo aquele piano tocar estudos. Impressionante como essa prática acabou influenciando a música deles.
Chico – Com certeza.
Renato – Tanto que, quando o Chico se formou no colégio, ele chegou pra mim e disse: “Pai, meu negócio é música, eu não vou pra faculdade”. E eu disse: “Tá bom”. Faculdade de Música, jamais!
Chico – Ah, é. Teve um período em que eu até pensei, mas o Zé Gomes, nesses jogos de xadrez, dizia: “Ô, rapaz, não vai fazer aula! Você vai sair padronizado. Vai demorar mais um pouco, mas você chega lá”. O Yamandu Costa ficava estudando direto com o Zé Gomes, o Almir também…
Quantos filhos você tem, Renato?
Chico – Quatro. A Isabel, Bel Teixeira, que é uma grande atriz, ganhou Prêmio Shell…
Renato – A Antonia, que é música também, mas mexe com vídeo. É uma grande editora de vídeo.
Chico – Eu e o João. Acho que é isso, né, paizão?
Meu pai ficou fazendo música em casa, no começo dos anos 1980, época da baixa. Fazia trocentos jingles de publicidade numa levada. E eu sempre perto. Tem fotos dele compondo e eu lá, puxando o cadarço dele
Poderíamos comparar o trabalho independente do Renato, no Grupo Água, e o seu, Chico, agora?
Renato – Aí tem uma sequência interessante. Eu peguei a música caipira das duplas, Tonico e Tinoco, Vieira e Vieirinha, Tião Carreiro e Pardinho, Cascatinha e Inhana, as duplas que eu gostava, os cults – porque já tinha os apeladores também. Esses caras entravam no estúdio, ligavam um microfone pra cada um, violão, e gravavam LP em duas horas. E, quando o ciclo se cumpriu, como é que a gente releu isso? Montamos o Água, que hoje considero uma das bandas mais importantes da história da música brasileira. Viemos com um acústico pesado, que acabou jogando a gente pro conceito folk – que na verdade é o princípio da música popular. Até em 1700, a música era medieval, aquela coisa renascentista, com cravos e alaúdes… Aí um desses músicos um dia saiu para passear no campo e viu os caras capinando e cantando aqueles cantos de trabalho. Viu as lavadeiras lavando roupa e cantando. Ele ficou prestando atenção, decorou e botou os instrumentos em cima. Aí o cara disse: “Isso é folk, essa é a música do povo, harmonizada por músicos”. Você pega o que o povo diz e pensa e transforma em música. Romaria, por exemplo. Baden e Vinicius são absolutamente folk. O samba é totalmente folk. Noel Rosa!
Chico – Você pega Tocando em Frente, é uma música que pode mudar sua vida.
Naquela época o Água já se considerava folk?
Renato – A gente não tinha essa consciência.
Chico – Eu vejo nitidamente que a sonoridade do Almir vem daí.
Renato – O Almir estava estudando Direito no Rio e viu o Água.
Chico – Aí mudou a vida do cara.
Renato – Ele viu um cara tocar viola, se interessou e comprou a viola. “É isso o que eu quero”, disse. Uma coisa foi puxando a outra. Acho que o trabalho dessa meninada, do Chico, do Gabriel, filho do Almir, da Nô Stopa, filha do Zé Geraldo – que é folk total –, vai fazer o galo cantar.
Os filhos também são amigos, não?
Chico – Sim. E o Zé Geraldo também, direto a gente faz comida, janta, eu vou na casa dele…
Essa Cantareira está ocupada!
Renato – Tem músico pra todo e qualquer lado.
Chico – Você toca o sino e junta uma banda.
Uma coisa do disco novo remete aos dois: o Elpídio dos Santos. Essa música de Taubaté e São Luiz do Paraitinga, ali perto de onde o Renato passou a infância.
Renato – O Elpídio frequentava a casa da nossa família em Ubatuba. Ele e o Adolfinho são músicos muito parecidos, todos semiclássicos.
Chico – Eu fui descobrir o Elpídio na minha adolescência, indo para Ubatuba. Tinha uma parada que era tradicional em São Luiz. Quando comecei a viajar sozinho com os amigos, eu ia lá. Acabei encontrando os filhos do Elpídio, o Negão, grande amigo meu. Fui conhecendo coisas belíssimas! Ele era um músico absoluto, de ouvido absoluto, que escrevia tudo e frequentava a casa dos parentes em Ubatuba. Rolava esse intercâmbio. Eu me aproximei do Negão e, no centenário do Elpídio, no ano passado, fizeram um projeto superbonito em comemoração e me convidaram pra cantar Saudade Danada. Fiquei meio surpreso, mas a música caiu no meu colo. Eu gravei e coloquei no show do Renatão.
Renato – Mas nosso grande momento no palco é a música do Cat Stevens Pai e Filho. Ouço desde que foi lançada. E o Chico começou a tocar e disse: “Pai, vamos fazer a versão?” É legal porque é um filho se despedindo do pai para ir tocar a vida. É aí que está o combustível da sedução: conseguir tocar as pessoas. Um filho indo embora de casa toca as pessoas.
Chico – Tem dia que a gente fica preocupado. “Olha o tanto de gente chorando!” Impressiona.
Renato – E na música tem uma coisa em que acredito: a única moeda forte no planeta hoje, o único dinheiro que vai sobrar chama-se emoção. Se você consegue emocionar uma pessoa, não tem preço.
E dá para fazer isso até com jingle…
Renato – Principalmente. Se você fizer um jinglezinho meia-boca, passa batido. Agora, se pegar o cara pelo coração, vai vender. Emoção serve pra tudo.
Chico – Para cada jingle, ele fazia cinco músicas, tá? (risos)
Na gravação de Ouça Menino, a participação do seu filho foi natural ou ensaiada?
Chico – Foi natural. Eu o levei pro estúdio porque não tinha com quem deixá-lo. Fiz essa música pra ele. Mas não foi só. Ele gravou mais coisa porque o deixei brincar. Ele fez uns improvisos bem legais. Imagine, pra uma criança, entrar num estúdio, botar o fone, o microfone, aquele som lindo, ficar falando e a música tocando… Eu não fico cutucando muito porque acho que a coisa tem de ser natural, como foi pra mim. Tanto é que está cheio de violão aqui e de vez em quando ele vai e dá uma arranhadinha. Ele tem o maior respeito por violão, nunca deixou cair nem nada. Eu confio. Meu pai, graças a Deus, sempre presenteou a gente com instrumentos top, e eu confio.
Renato – Cada vez que vinham pedir instrumento, nunca dei um meia-boca, para irem se acostumando com os bons. Essa geração nova tem muito mais recursos para trabalhar com música. Tanto que nós estamos fazendo aqui em casa um estúdio. Em geral, o artista, quando começa a investir, compra fazenda. Aqui, a gente só compra coisas que tenham a ver com música. O estúdio é caro, mas vamos gravar nossos discos aí. E os netos vão gravar os deles também.
Como vocês veem o compartilhamento de músicas? A pirataria faz com que vocês deixem de ganhar?
Renato – Por enquanto, até sair um jeito de ganharmos. Para o Chico, é uma dádiva dos céus. Pra mim, é uma vingança contra as gravadoras (risos). A gente não precisa mais delas, e isso é muito bom.
Qual é o próximo projeto?
Renato – Estou com um projeto tão lindo neste ano! Não ficou pronto ainda, mas vou fazer um disco com a minha neta de 10 anos, vou compor junto com ela. Enquanto eu estiver por aqui, com cada neto que estiver na fase dos 10 anos quero fazer um disco junto. São seis netos.
Chico – Antes ele fazia música para nós. Cada filho dele tem uma música.
Renato, você se vê mais novo no Chico?
Renato – É igualzinho. E com eles atuando, eu me modernizo. Estou vinculado a eles agora. Eu me desprendi daquelas minhas influências de Noel Rosa, de Ary Barroso, e acabei me prendendo a eles.
Obs.: entrevista publicada originalmente na Revista do Brasil na edição de setembro de 2011. Veja link.